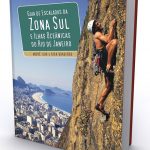No texto abaixo, originalmente publicado no site Carta Maior, o montanhista e escritor André Ilha comenta sobre as leis que sugeriram nos últimos meses para regulamentação do turismo e esporte de aventura
Quando comecei a escalar montanhas, em meados dos anos 70, passei a integrar uma reduzida confraria de pessoas consideradas exóticas pela maioria da população, que saíam muito cedo de casa nos finais de semana, mochila às costas, para percorrer trilhas e vias de escalada escassamente visitadas. O montanhismo era então domínio exclusivo de amadores, o que lhe valia, inclusive, o apelido de “esporte diferente” por inexistir competição direta entre os seus praticantes. Sua memória e tradições sempre foram mantidas por um bem organizado sistema de clubes, o primeiro deles fundado em 1919 e em funcionamento até os dias atuais.
Uma década depois alguns enxergaram a possibilidade de ganhar a vida oferecendo serviços de guias e instrutores de escalada, na esteira do emergente “turismo ecológico”, um fato cujo sucesso teria uma profunda influência tanto no número como no próprio perfil dos freqüentadores de nossas até então tranqüilas montanhas. Pois se antes os clubes divulgavam suas atividades com parcimônia, buscando atrair novos adeptos em números compatíveis com a possibilidade de lhes proporcionar uma adequada formação técnica e ética, além de rudimentos de educação ambiental, os novos profissionais, na ânsia de ampliar o mercado de forma a lhes assegurar um fluxo contínuo de clientes, passaram a divulgar o esporte de forma bem mais intensa, o que levou às montanhas levas crescentes de pessoas ávidas por experimentar as emoções únicas que aquele ambiente proporciona.
Houve então um boom do montanhismo, paralelo à expansão de outros esportes diretamente ligados à natureza e que também oferecem adrenalina garantida aos seus praticantes, como o vôo livre, o parapentismo, a canoagem e outros, o que abriu espaço para o aparecimento de lojas e publicações especializadas, algo até então inexistente. Curiosamente, meras técnicas de escalada, como o rapel e a tirolesa, foram alçadas à condição de “esportes” na disputa por um mercado cada vez mais atraente.
Toda esta efervescência levou, de forma não surpreendente, a um sensível aumento do número de acidentes, por diversas razões. Primeiro, por mera decorrência estatística, já que mais pessoas praticando uma atividade de risco implicam em uma maior probabilidade da ocorrência de acidentes. Segundo, porque a ampla divulgação destes esportes pelos meios de comunicação levou pessoas despreparadas a praticá-los por conta própria, sem prévio treinamento, receita segura para o surgimento de problemas. Por fim, o desejo de abocanhar uma fatia deste segmento em franca expansão propiciou uma multiplicação de empresas e operadores autônomos, alguns dos quais sem tradição e experiência na área e que, eventualmente, colocam seus clientes em risco.
A grande repercussão de acidentes deste tipo na mídia – que, salvo exceções, sempre carrega nas tintas do sensacionalismo – levou muitos políticos, em todos os níveis administrativos e em diversos pontos do país, a se preocupar com a questão e a pensar regras que minimizassem a possibilidade de sua ocorrência. Entretanto, tal preocupação, legítima e compreensível, tem, por vezes, incorrido em equívocos, alguns dos quais tão sérios que chegam a colocar em xeque a própria existência das atividades que pretendem ver salvaguardadas. Como muitos destes equívocos foram gerados por desconhecimento dos princípios básicos que regem tais atividades e das motivações de seus praticantes, cabe aqui entendê-los para que futuras normas não os repitam e mesmo para que algumas já aprovadas possam sofrer aperfeiçoamentos que as convertam em um benefício, e não uma ameaça, a esta instigante tendência de se unir a prática esportiva à natureza.
O ponto central a ser esclarecido é a diferença entre “esportes de aventura” e “turismo de aventura”. Esportes de aventura, na adequada definição recentemente aprovada pelo Ministério dos Esportes, compreendem “o conjunto de práticas esportivas formais e não formais, vivenciadas em interação com a natureza, a partir de sensações e de emoções, sob condições de incerteza em relação ao meio e de risco calculado”. A definição prossegue, mas aqui já temos evidenciados os dois elementos básicos motivadores do fascínio que tais esportes exercem sobre seus praticantes: a incerteza e o risco calculado. Com efeito, o que um escalador, um parapentista ou um surfista procuram é enfrentar os desafios naturais tais como eles se apresentam, colocando corpo e mente para trabalhar em harmonia de forma a superar os seus limites pessoais e, se bem-sucedidos, desfrutar a satisfação única proporcionada por sua performance.
Em contrapartida, ao lidar com a natureza em seus próprios termos, estes esportistas, assim como aqueles de tantas outras modalidades congêneres, estão dispostos a aceitar eventuais fracassos e a correr o risco de acidentes graves, até mesmo fatais, pois é precisamente na incerteza e no risco (minimizados por técnicas e equipamentos cada vez mais sofisticados) que reside a aventura – esta faceta indômita da psiquê humana que as facilidades da vida moderna procuram eliminar, mas que permanece como uma necessidade primordial para tantos de nós.
Ocorre que é possível a prática destes mesmos esportes em condições mais controladas, com risco mínimo e alto grau de previsibilidade de resultados: este é o terreno do turismo de aventura, atividade comercial na qual guias e instrutores supostamente qualificados levarão seus clientes para experimentar as mesmas sensações e emoções dos esportes de aventura, só que em uma versão mais diluída, em roteiros pré-estabelecidos, de dificuldade moderada e com desfecho positivo quase assegurado. Por se tratar, em última análise, de uma relação de consumo, é correto que o Poder Público procure estabelecer parâmetros mínimos de qualidade e segurança na prestação de tais serviços, embora o Código de Defesa do Consumidor já ofereça uma base sólida nesse sentido.
Algumas leis recém-aprovadas e projetos ainda em tramitação, no entanto, ao darem aos esportes tratamento idêntico ao conferido ao turismo de aventura, acabaram criando, para os primeiros, uma camisa-de-força que descaracteriza a sua própria essência, por pretenderem submeter uma atividade lúdica e amadora a normas, registros e regulamentos tacanhos, penalizando aqueles que apenas desejam desfrutar, em seus momentos de lazer, e na companhia de amigos, a sensação única de liberdade que somente uma trilha, um paredão rochoso, uma corredeira ou um vôo de parapente podem proporcionar – inclusive assumindo os riscos inerentes a essa escolha. Daí defendermos que a premissa inicial para atuais e futuras regulamentações da prática esportiva em ambientes naturais seja que elas devem estar voltadas, exclusivamente, para a sua exploração comercial, em outras palavras, para o turismo de aventura, deixando que cada esporte amador defina, através de suas entidades representativas – clubes, federações e confederações -, sua própria forma de funcionamento, de acordo com suas peculiaridades, história e tradições.
Ainda que bem intencionados, alguns destes dispositivos legais padecem também de uma redação deficiente, certamente fruto de assessoria não-especializada, que mais confundem do que esclarecem e criam demandas impossíveis de serem atendidas.
A ser observado estritamente o texto de lei recentemente aprovada em Minas Gerais, por exemplo, quem for jogar uma pelada no Parque das Mangabeiras estará sujeito à aprovação prévia do Corpo de Bombeiros e de um “órgão competente”, a assinar um termo de responsabilidade e, ainda, deverá estar acompanhado de “monitores habilitados”, uma vez que, de acordo com este diploma legal, esportes de aventura são todas as “modalidades esportivas de recreação que ofereçam riscos controlados à integridade física de seus praticantes e exijam o uso de técnicas e equipamentos especiais”, definição que se aplica perfeitamente ao futebol (muito mais pessoas se lesionam jogando bola do que escalando montanhas, e bola e chuteiras nada mais são do que equipamentos especiais para este esporte).
Pela versão original de projeto que tramita na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, seria exigido dos escaladores o uso de luvas, algo como obrigar mergulhadores a usar pés-de-pato de chumbo…
Por fim, mesmo no tocante à prática comercial, alguns destes atos trazem embutidas uma burocratização excessiva e a ostensiva cartorialização da atividade. O exemplo mais desanimador nesse sentido nos foi dado pela Lei 2353/06 da cidade de Niterói, que determina que só se usem equipamentos certificados por entidade ligada à Empresa de Lazer e Turismo do Município e que só possam atuar no ramo profissionais oriundos de cursos previamente aprovados por ela, além de estabelecer uma inacreditável reserva de mercado para “profissionais já em atividade no Município”!
Alguém ganhará com isso, mas este alguém não será, decerto, os esportes de aventura e nem mesmo o turismo de aventura, pois o programa do curso estipulado para os seus “profissionais” está muito aquém do currículo exigido há décadas pelos clubes amadores para os seus próprios guias.
É natural que atividades novas gerem novas demandas e desafios para o legislador, e os dispositivos acima elencados devem ser entendidos como os inevitáveis tropeços iniciais em uma longa caminhada que apenas se inicia e que deveria estar voltada apenas para as práticas comerciais. Pois, no tocante à prática amadora, fazemos nossas as sensatas palavras do deputado Otávio Germano, relator do Projeto de Lei Federal nº 5609/05, no voto que levou ao seu arquivamento definitivo: “Não cabe ao Estado interferir nessas relações. Se alguém se permite correr determinados riscos inerentes a uma atividade a que voluntariamente se submete, que o faça livremente, no uso da liberdade que lhe é constitucionalmente assegurada. E mais, diante de um Poder Público que já não consegue atender, razoavelmente, a outras imposições mais graves e tipicamente públicas, não se justifica sobrecarregá-lo ainda mais com responsabilidades outras e menores no campo regulatório e fiscalizatório.”
André Ilha é coordenador do Grupo de Ação Ecológica (GAE) e ex-presidente do Instituto Estadual de Florestas do Rio de Janeiro (IEF-RJ)
Este texto foi escrito por: André Ilha
Last modified: março 5, 2007